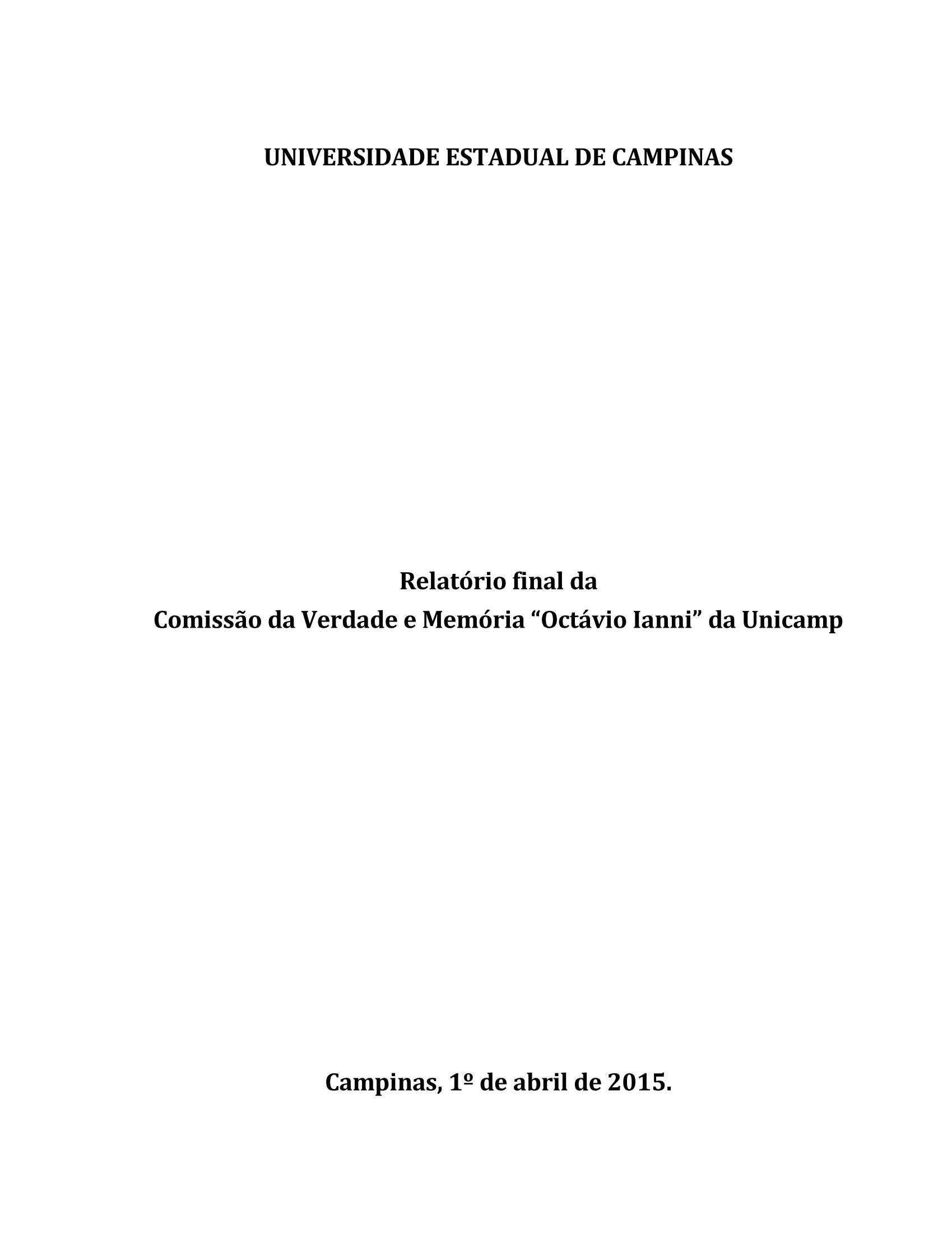Em 1973, com o fortalecimento da atuação autônoma e clandestina do DOI-Codi (Destacamento de Operações e Informações ligado ao Centro de Operações de Defesa Interna) paulista na caçada aos últimos focos de resistência à ditadura, quadros residuais da AP (Ação Popular) espalhados pelo país entraram no radar da repressão. A organização havia rachado em 1972, quando a maior parte de seus militantes entrou para o PCdoB (Partido Comunista do Brasil). O grupo que restou, denominado APML (Ação Popular Marxista-Leninista) e liderado pelo ex-deputado cassado Paulo Stuart Wright e pelos líderes estudantis José Carlos Novaes da Mata Machado e Honestino Guimarães, foi exterminado pelo regime no biênio 1973-74.
A partir das informações fornecidas pelo infiltrado Gilberto Prata Soares, militantes e simpatizantes em vários estados desapareceram, foram presos ou mortos pela ditadura. A operação, segundo o ex-sargento Marival Chaves Dias do Canto, que atuou no DOI-Codi no período, foi comandada por dois oficiais do CIE (Centro de Informações do Exército) com histórico em centros clandestinos de tortura: os majores José Brant Teixeira e Paulo Malhães, o Dr. Pablo.
Em julho de 1974, João Dantas percorreu no escuro os 4,5 km que separam o 31º Batalhão de Infantaria Motorizada de Campina Grande (120 km de João Pessoa) da região dos Cuités e Jenipapo, na Estrada do Cardozo, na Paraíba. Encapuzado, conseguiu mapear o trajeto mentalmente porque morava próximo do quartel.
Graças a essa memória, o então ator e diretor de teatro identificou o paiol da empresa Casa B. Bezerra, espécie de armazém de produtos de caça e pesca. Era uma das Granjas do Terror, apelido dado aos aparelhos usados pela repressão em Campina Grande, por onde passaram ao menos dez presos políticos entre 1973 e 1974. Cedidas por empresários da cidade, as granjas ficavam afastadas do centro. Eram lugares aparentemente normais, mas que tinham uma estrutura para abrigar os presos políticos e equipamentos de tortura.
Militante da AP, Maura Ramos era vigiada desde que voltou a Campina Grande após ser presa em 1968 no congresso clandestino da UNE (União Nacional dos Estudantes), em Ibiúna (SP). Em 29 de abril de 1974, foi abordada por três homens quando saía do trabalho. Encapuzada e algemada, foi jogada dentro de uma Kombi e levada para a granja. Os interrogatórios eram seguidos por agressões físicas, como choques elétricos. Queriam saber sobre os arquivos da AP. Maura foi torturada durante uma tarde inteira até ser levada para o DOI-Codi do Recife, onde permaneceu por 12 dias. Lá, era interrogada a qualquer hora do dia, privada de banho, água e comida.
Em junho de 1992, o médico e professor Firmino Brasileiro confirmou a existência de uma granja na região de Jenipapo, que era usada para abrigar presos políticos em Campina Grande. Em carta enviada ao jornal “A Palavra”, Firmino declarou ter sido chamado pelo major Antônio de Paula Câmara, comandante da guarnição federal do Exército na região, para atender um paciente gravemente ferido nessa casa. Acusado de acompanhar os interrogatórios, o médico negou pertencer a qualquer esquema militar de repressão.
As vítimas de tortura ouvidas pela CEV-PB (Comissão Estadual da Verdade da Paraíba) reconheceram o sargento Francisco de Assis Oliveira Marinho, o sargento Marinho, como um dos torturadores. Ele era subordinado ao major Câmara, que morreu em setembro de 1974 em acidente de carro na BR-101, no Rio Grande do Norte. Hoje com 75 anos, ele vive na cidade de Aquiraz (36 km de Fortaleza). É conhecido como Doutor Marinho. Em 2012, foi candidato a vereador – obteve apenas 41 votos. Marinho não foi localizado pela reportagem para falar sobre a Granja do Terror.
A Comissão Estadual da Verdade não tem provas que as Granjas do Terror usadas por militares em Campina Grande pertenciam a comerciantes da cidade. Dantas, sobrevivente das torturas nesses aparelhos clandestinos, diz não ter “nenhuma dúvida” sobre a propriedade dos imóveis, atribuída aos donos das empresas B. Bezerra Caça e Pesca e Manoel Ferreira Comércio, ambas abertas durante o período militar. Para ele, as relações envolviam a negociação de armas e explosivos. “Eram pessoas que tinham uma ligação forte com o Exército, no sentido de ter alguma proteção ao comércio que eles desenvolviam”, afirma.
Manoel Bezerra, um dos donos da B. Bezerra Caça e Pesca e apontado como proprietário da granja, morreu em 2004. Seu filho Emannuel Bezerra vive em Maceió (AL), onde tem uma loja de caça, pesca e camping. Ele confirmou que a família tinha um sítio na região de Cuités que foi vendido há mais de 40 anos. Emannuel disse que desconhece a relação do seu pai com o regime militar e que não sabe se o local era usado para realização das torturas.
A esquina movimentada no número 20 da Estrada da Granja, em Itapevi (40 km de São Paulo), é hoje endereço de um posto de combustíveis. Atrás dele, na parte mais alta do mesmo terreno, uma casa simples pintada de rosa parece a moradia de uma família comum.
Há 40 anos, essa mesma área escondia bem mais do que as paredes de veludo vermelho de um prostíbulo. Entre 1974 e 1975, o mesmo imóvel abrigou torturadores dedicados a exterminar o PCB (Partido Comunista Brasileiro), de onde saíram vários integrantes da luta armada. Para agentes do regime, era razão suficiente para colocar o “Partidão” na mira da repressão.
A troca de comando no alto escalão militar em 1974 foi decisiva para a caçada ao PCB. Quando o general Ernesto Geisel assumiu como quarto presidente da ditadura, a promessa de abertura “lenta, gradual e segura” tornava a repressão incompatível com mortes em público de opositores do regime.
Com um general linha dura no comando do II Exército (SP), Ednardo D’Ávila Melo, e outro, Reynaldo Mello de Almeida, contrário à atuação clandestina do CIE na área do I Exército (RJ), o DOI-Codi paulista saiu fortalecido para agir nas sombras e com autonomia. É nesse contexto que a repressão se desloca da Casa da Morte, em Petrópolis (RJ), para os fundos da boate Querosene, em Itapevi. Sob o comando do novo chefe, coronel Audir Santos Maciel, o Dr. Silva, a boate passou a ser o quartel-general clandestino do CIE.
No local desapareceram seis militantes do PCB presos durante a Operação Radar, a caçada nacional aos líderes do “Partidão” para evitar sua reorganização. Nenhum dos seis sobreviveu aos interrogatórios marcados por sessões de tortura. Os corpos nunca foram localizados.
Arranjado pelo major André Pereira Leite Filho, o Dr. Edgar, o imóvel passou a ser frequentado por oficiais do CIE. Entre eles, os capitães Enio da Silveira (Dr. Ney) e Freddie Perdigão (Dr. Nagib), além do cabo Félix Freire Dias (dr. Magno ou dr. Magro) – todos relacionados a outros endereços com a mesma finalidade: exterminar os opositores do regime sem deixar rastros. Segundo o ex-agente Marival Chaves, a casa pertenceu ao irmão do subtenente Carlos Silveira, que servia ao Comando Militar do Sudeste e era membro da Oban (Operação Bandeirante).
Moradora do bairro desde a época em que havia poucas casas no local, Betina (nome fictício) lavava roupas para a boate e confirma a circulação de militares na Casa de Itapevi. “Não tinha nem luz elétrica, então quando anoitecia não víamos mais ninguém. Só o pessoal do Exército circulava por aqui.” Quarenta anos após o fim do regime militar, ela ainda prefere não ser identificada ao falar sobre o assunto. “Nunca desconfiamos de nada, a gente ia lá entregar roupas e era tudo normal. Até que de repente o movimento foi diminuindo e os militares sumiram daqui. Não sabemos o motivo”, diz. Apenas o casal que tomava conta do imóvel permaneceu, até o dia em que toda a boate pegou fogo de maneira misteriosa.
O ex-sargento Marival Chaves, que abandonou o Exército no início da redemocratização, em 1985, conta que os corpos de todos os dirigentes do PCB torturados em Itapevi foram jogados no Rio Novo, próximo a Avaré, no interior de São Paulo. “[As vítimas] eram mortas com aquelas injeções para matar cavalo [Curare]. Era uma prática que teve início no cárcere de Itapevi e se estendeu ao de Araçariguama”, afirma. Segundo ele, os ex-deputados cassados João Massena Melo e Luiz Ignácio Maranhão, capturados em São Paulo no dia 3 de abril de 1974, foram mortos na boate Querosene com essa injeção.
Élson Costa, membro do Comitê Central do PCB, foi preso por seis homens à paisana em 15 de janeiro de 1975, aos 61 anos, enquanto tomava café em um bar de Santo Amaro, zona sul de São Paulo. Era responsável pelo setor de agitação e propaganda, trabalhava na produção e divulgação do jornal “Voz Operária”, órgão oficial do partido. Levado para o cárcere de Itapevi, foi torturado durante 20 dias. Há relatos de que teve o corpo queimado e, depois, ainda recebeu uma injeção de Curare.
No mesmo 15 de janeiro de 1975, o dirigente do PCB Hiram de Lima Pereira também foi capturado e levado para Itapevi. Seu corpo nunca foi encontrado. Menos de um mês depois, em 4 de fevereiro, o advogado e jornalista Jayme Amorim de Miranda foi preso no Rio de Janeiro e levado para a boate. Ele era Secretário de Organização e considerado o terceiro homem na estrutura do partido. Seu corpo também nunca foi localizado. Em 25 de maio de 75, agentes do DOI paulista capturaram Itair Veloso no Rio de Janeiro. “Itair Veloso morreu em Itapevi. Jogaram um balde de água gelada sobre o corpo dele nu, imagino que tenha morrido de hipotermia”, revela o ex-sargento Marival Chaves. O corpo, afirma, também foi jogado no Rio Novo, em Avaré (SP).
A ideia de que nenhum preso político saiu vivo da casa de Itapevi é contestada pelo ex-sargento. Severino Teodoro de Mello, membro do PCB, teria sido torturado no imóvel e depois levado para uma casa clandestina da repressão no bairro do Ipiranga, zona sul de São Paulo. O local era o abrigo de presos que aceitavam colaborar com os militares. Lá, Mello teria recebido uma quantia em dinheiro e assinado um “contrato” para atuar como agente infiltrado.
Comunista histórico nascido em 1917, Mello atuou lado a lado com Luiz Carlos Prestes na reorganização do PCB após o Estado Novo, a partir de 1945. Além de Chaves, outros agentes da repressão citados no livro “A Casa da Vovó”, do jornalista Marcelo Godoy, citam a contribuição de Mello para as prisões de Elson Costa, Hiram de Lima Pereira, Jayme Miranda, Itair Veloso e Marco Antonio Tavares Coelho. Mello, que sempre negou a acusação de ter colaborado com a repressão, não foi localizado pela reportagem. “Voltei a ter contato com o Mello e nunca acreditei que ele tenha feito uma ação dupla. Prefiro acreditar em um companheiro do que nos militares”, afirma Nilson Miranda, irmão de Jayme.
Aos 84, vivendo em Porto Alegre (RS), o jornalista Nilson Miranda também é apontado por Marival Chaves como informante da repressão. Enquanto Jayme era torturado na casa de Itapevi, diz o ex-sargento, Nilson permanecia na casa do Ipiranga, sem saberem da prisão um do outro. Nilson nega: diz que nunca esteve preso em São Paulo até 1974, quando deixou o Brasil rumo ao exílio em Moscou (Rússia) e Paris (França). Retornou ao país apenas com a Lei da Anistia.
Membro do PCB baiano, o economista Sérgio Santana tinha apenas 23 anos quando foi eleito vereador pelo MDB (Movimento Democrático Brasileiro) da Bahia, em 1974. Em julho de 75, seu nome estava na lista daqueles que deveriam ser presos na Operação Radar. “Não havia como escapar da prisão. Vinha acontecendo no Brasil inteiro e fatalmente aconteceria aqui”, diz.
Em 4 de julho de 1975, toda a cúpula do PCB na Bahia “caiu”. Em menos de 24 horas, militantes e dirigentes comunistas foram presos um após o outro. O destino era Alagoinhas, a 124 km da capital baiana. Ali funcionava, de acordo com documentos oficiais, o que os militares chamavam de “Fazendinha” ou “Central de Interrogatório”. Atualmente o lugar abriga a 2ª Companhia do VI Depósito de Suprimentos do Exército.
A exceção foi o engenheiro Marco Antônio Rocha Medeiros, assessor do então prefeito Jorge Hage. Em seu lugar, agentes da repressão levaram o também engenheiro Marco Antonio Rocha Medeiros, um homônimo que passou uma noite inteira sendo torturado por engano. “No meu lugar foi preso esse engenheiro que morava próximo de mim e tinha o mesmo nome que eu. Sofreu uma noite de tortura sem saber o porquê”, conta Marco Antônio, 71, preso apenas às 6h da manhã do dia seguinte.
Como todos os cárceres clandestinos, a Fazendinha cumpria sua obrigação de ser um local isolado e extraoficial, onde não era necessário registrar apreensões. “Durante a tortura há gritos, então não pode ter vizinhança. E se estavam tão à vontade assim em fazer tudo isso é porque estávamos muito distantes de qualquer habitação”, conclui Medeiros.
Para as mulheres do grupo foi reservado um local separado, que a economista Maria Lúcia Cunha de Carvalho, 71, descreve como um cômodo de azulejos brancos. “Ali fomos interrogadas por duas pessoas. Era totalmente fechado e a gente não ouvia nada, não tinha nem janela”, conta a economista. Ela era funcionária da Secretaria de Planejamento e única mulher do Comitê Estadual do PCB.
O advogado Carlos Augusto Marighella, filho do líder da ALN assassinado pela repressão em 1969, também estava entre os reféns da Fazendinha, onde passou cerca de dez dias. “Fui preso na minha casa. Me levaram para um carro da polícia, me encapuzaram e não vi mais nada”, relembra. Hoje com 66 anos, Marighella conta que os agentes amarraram os presos uns aos outros e os deixaram ao relento durante a maior parte do tempo.
A principal pista para a localização do aparelho em Alagoinhas vem do economista Sérgio Santana, preso na mesma operação. “Nos dois primeiros dias ficamos do lado de fora, estava frio. Eram dois galpões descobertos, com pilares de metal, colunas. Teve um momento em que ouvimos passar um trem próximo”, lembra. Era a linha férrea que ligava Alagoinhas a Salvador, parte da EFBSF (Estrada de Ferro da Bahia ao São Francisco) e próxima da área que hoje abriga a 2ª Companhia do VI Depósito de Suprimentos do Exército.
A ação, batizada de Operação Acarajé, foi comandada pelo próprio coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que se deslocou de Brasília até Salvador para os interrogatórios e torturas. Para localizar, prender e identificar dezenas de dirigentes do PCB baiano em poucas horas, Ustra teve ajuda de um agente infiltrado. Wenceslau de Oliveira Moraes, membro do comitê nacional do partido, foi o informante responsável pela queda da cúpula comunista no Estado. “Levantaram meu capuz e vi o Ustra na minha frente. Atrás estava o Wenceslau, que confirmou quem eu era. Tive a certeza de que todos nós tínhamos sido entregues”, conta o engenheiro Rocha Medeiros. “Ustra veio pessoalmente participar de toda a operação, na época era chamado de doutor Luiz Antônio. Somente anos depois é que reconhecemos quem ele era de verdade”, diz.
Durante os dez dias em que estiveram presos na Fazendinha, os 44 membros do PCB não faziam ideia da forte repercussão de seu sumiço em Salvador, o que colaborou para que todos fossem libertados com vida. “Nós todos tínhamos uma inserção forte nas estruturas legais”, lembra Machado. O engenheiro Rocha Medeiros concorda: “Saímos com vida graças à grande reação que houve. Foi instantâneo, as pessoas se mobilizaram, todos nós tínhamos nome na sociedade”.
Aos olhos de quem passasse em frente ao imenso imóvel situado na rua Brigadeiro Franco, no centro de Curitiba, em meados da década de 1970, os homens de jaleco branco que fumavam nas escadas pareceriam médicos de uma clínica qualquer. Mas eram doutores de araque. Atuavam no centro clandestino de aprisionamento e tortura estabelecido nas instalações do que deveria ser o DRMS (Departamento Regional de Material de Saúde), em frente ao quartel do NPOR (Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva).
O DRMS era uma fachada para o centro clandestino de tortura, batizado de Clínica Marumbi pelos próprios torturadores. Eles exigiam ser chamados de “doutores” pelas vítimas dos abusos cometidos entre 12 de setembro e a última semana de outubro de 1975. Foi nesse período em que a Operação Radar chegou ao Paraná: mais de cem pessoas foram presas e interrogadas sob tortura no Estado.
O jornalista Johnny Luiz Chemberg foi quem revelou a localização da Clínica Marumbi ao Fórum Paranaense de Resgate da Verdade, Memória e Justiça. Chemberg passou um ano, um mês e um dia no Exército entre 1974 e 1975, cumprindo o serviço militar obrigatório no quartel do 5º Batalhão Logístico, em Curitiba. Em diversas ocasiões, levou “quentinhas” à instalação em frente ao quartel onde servia.
“Era uma casa do inferno”, resume o advogado Antonio Narciso Pires de Oliveira. Preso seis vezes entre 1969 e 1975, ele tinha apenas 20 anos quando começou a chamar a atenção do regime. Era líder estudantil em Apucarana, sua cidade natal. Tornou-se professor e continuou militando contra a ditadura. Filiado ao PCB, virou alvo da Operação Marumbi. Como não conseguiam encontrá-lo, os agentes capturaram e torturaram seu irmão, Lauro, por uma noite inteira. Foi solto com um recado: iriam atrás de seu pai, de sua mãe, de outros parentes e amigos até que Narciso se entregasse. Ele se apresentou em Apucarana e foi transferido para Curitiba, onde recebeu a notícia de que seria levado à Clínica Marumbi.
Lá, eram submetidos a simulações de fuzilamento, pau-de-arara e choques elétricos, entre outros abusos. Pelo tempo de deslocamento e pelos sons vindos de fora, os presos sabiam apenas que estavam dentro da cidade e em algum lugar não muito distante do quartel da Praça Rui Barbosa, local de fácil reconhecimento e por onde praticamente todos eles passavam antes de serem levados à Clínica Marumbi. Os presos incluíam, além de militantes do PCB, amigos ou parentes dos filiados ao “Partidão”. Um dos principais era Newton Cândido, segundo secretário do partido e considerado o nome mais importante do PCB no Paraná, especialmente por sua proximidade com o histórico líder comunista Luís Carlos Prestes – exilado à época. Por isso, sua prisão foi considerada um grande trunfo da investida do regime contra o partido.
Ildeu Manso Vieira Junior, que foi sequestrado aos 17 anos junto com seu pai, Ildeu Manso Vieira, na rodoferroviária de Curitiba em 14 de setembro de 1975, relatou à CNV que os agentes “se comunicavam o tempo todo pelo rádio com um tal de Dr. Pablo” antes de serem levados à Clínica Marumbi. O major Paulo Malhães testemunhou à mesma comissão e admitiu que participou de ações repressivas em vários Estados – inclusive no Paraná.
Ao contrário do que aconteceu em outros centros clandestinos usados por agentes da repressão, todas as vítimas de tortura saíram com vida do prédio do centro de Curitiba.
O cárcere de Araçariguama (50 km de São Paulo) substituiu a casa de Itapevi a partir de meados de 1975 e marcou a investida final do regime contra a cúpula do PCB. O local, que não foi identificado pela CNV, é apontado por moradores da cidade. “É o sítio do Rubinho, o major Rubens”, responde espontaneamente Ademir, que preferiu ser identificado apenas pelo primeiro nome. Ele diz já ter prestado serviços na propriedade. “Vi muitos recrutas sofrendo nos treinamentos lá.” Numa manhã de domingo, ele e outros moradores reunidos na praça de Araçariguama indicaram esse local como o sítio utilizado há vários anos para treinamentos do Exército na cidade.
A propriedade, afastada do centro, é grande e isolada. Na estrada de acesso ao sítio, uma placa indica uma saída para a rodovia Castelo Branco. O acesso ao terreno, feito de pedras, é cercado de mata dos dois lados. À direita do portão, há um lago rodeado por pinheiros – semelhante ao cenário do sítio 31 de Março, em Parelheiros. O sítio Vale do Sino tem duas casas para funcionários, além da residência principal, que fica distante da entrada, na parte alta do terreno. Quem trabalha ali confirma que o imóvel pertence a Rubens Nardelli de Andrade, um senhor de 82 anos que não permite a entrada de desconhecidos na propriedade e costuma recusar os constantes pedidos para alugar o local para eventos ou mesmo para pescar no lago.
Andrade nega qualquer relação com militares, desmentindo inclusive o título de “major”. “O Exército utilizava a área para fazer exercícios, mas eu não tenho nada com a revolução. Naquela época nunca foi usado para isso, só depois. Eu sou de Araçariguama e sei toda a história da cidade, que nunca teve nenhuma participação na revolução”, afirmou Andrade à reportagem.
Marival Chaves afirma que dois dirigentes do PCB frequentemente apontados como desaparecidos após passarem pela boate Querosene, Orlando da Silva Rosa Bonfim Júnior e José Montenegro de Lima, foram levados para um sítio na margem direita da rodovia Castelo Branco. Montenegro desapareceu em setembro de 1975, morto no sítio com Curare após diversas sessões de tortura.
Após a execução de Montenegro, a Operação Radar mirava seu último alvo entre os líderes do Partido Comunista: o jornalista Orlando Bonfim Júnior, que desapareceu aos 60 anos no dia 8 de outubro de 1975, em Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Membro do Comitê Central do PCB, foi levado do Rio para o centro clandestino de Araçariguama, onde foi torturado e morto com a mesma injeção para matar cavalo que tirou a vida de Montenegro.
Os militantes Renato de Oliveira Mota – codinome Gonzaga – e Aristeu Nogueira Campos – conhecido como Caetano –, importantes figuras dentro da estrutura do partido, estão entre os poucos dirigentes comunistas que passaram por centros clandestinos de tortura e não desapareceram. Embora não existam testemunhos que comprovem que os dois tenham sido prisioneiros no sítio de Araçariguama, seus relatos afirmam que eles passaram por um “sítio” no ano de 1975.
O advogado Iberê Bandeira de Melo, que encaminhou o pedido de anistia de Mota, confirma a passagem do militante pelo sítio da rodovia Castelo Branco. “Sei que ele passou por esse sítio, mas nunca conversamos muito sobre como foi lá”, afirma. Renato Mota conseguiu sair vivo do centro de tortura por ser o elo entre o PCB e a célula comunista da Polícia Militar de São Paulo, sendo útil para a repressão. A reportagem tentou localizá-lo, mas seu advogado não informou seu paradeiro. Já Aristeu Nogueira sobreviveu porque sua prisão escapou ao sigilo das prisões feitas pelo DOI paulista em território fluminense. Morreu em 2006, aos 92 anos.
A atuação clandestina desenfreada do CIE em São Paulo começou a ruir em 25 de outubro de 1975, quando o jornalista Vladimir Herzog foi morto sob tortura durante interrogatório nas dependências do DOI-Codi. A prisão do então diretor de jornalismo da TV Cultura fazia parte da segunda etapa do desmonte do PCB. Após executar as lideranças, o CIE caçava as bases do “Partidão”. A guerra aos comunistas interessava às pretensões presidenciais do então ministro do Exército Sylvio Frota, e o comando militar paulista assumiu as trincheiras anticomunistas.
Mas a repercussão negativa dentro do governo e a pressão crescente das ruas após o assassinato do jornalista puseram fim a uma década de prisões secretas e torturas em cárceres clandestinos. Em janeiro de 1976, os oficiais no comando das operações do DOI-Codi – e dos aparelhos clandestinos – em São Paulo, Ednardo D’Ávila Melo e Audir Santos Maciel, foram demitidos após a morte do operário Manoel Fiel Filho sob tortura. Chegava ao fim uma década de cárceres secretos usados pela ditadura para prender, torturar e matar opositores do regime militar no Brasil.
REPORTAGEM
Andréia Lago
Ana Carolina Neira
Ítalo Rômany
Ricardo Gozzi
FOTOGRAFIA
Andréia Lago
Cacalos Garrastazu
Keicy Victor
Ricardo Gozz
Apoie o Documentos Revelados
Desde 2005 o site Documentos Revelados faz um trabalho único no Brasil de garimpo de documentos do período da ditadura. Ele é dirigido, editado e mantido no ar por uma única pessoa, Aluízio Palmar.
Contribuindo para manter o Documentos Revelados você ajuda a história a não ser esquecida e que nunca se repita.
Copie esta chave PIX, cole no aplicativo de seu banco e faça uma doação de qualquer valor: